Ou os corpos programados, ou o Comum Digital
Por Antonio Lafuente, no ctxt | Tradução: Simone Paz
Ter um corpo próprio nunca foi fácil. Sempre houve interesses vorazes para dominá-lo e escravizá-lo. A abolição da escravidão, a proibição de realizar experimentos com seres humanos ou a conquista do direito a voto são três exemplos dos que nunca devemos nos esquecer. Sempre existiram diversos tipos de batalhas retóricas tentando legitimar essas e outras formas de dominação do corpo de mulheres, negros, adversários, loucos ou pobres. Em resumo, sempre houve discursos hegemônicos sem nenhum constrangimento perante a desigualdade.
A cada dia surgem novas assimetrias a serem combatidas. Algumas delas ganham mais visibilidade com o que (nos) acontece em tempos de pandemia. E, agora que a internet dos corpos (IoB – ‘internet of bodies’) ganhou velocidade, surgem os riscos quase inevitáveis de novas dependências para aqueles que queremos preservar a saúde. No fim das contas, sempre temos dúvidas sobre o formato que esse novo corpo digital e hegemônico vem adotando, sempre em frente à tela do computador, sempre produtivo. Agora, produtivo em dobro, pois produz resultados para justificar seu salário e fornece dados que constituem-no como corpo digital. Um corpo que se desdobra através das redes e que precisa sair desse estado de sonambulismo tecnológico, no qual somos usados por tudo aquilo que usamos.
No mundo ainda recente da emergência da Aids, outra pandemia com a qual aprendemos a conviver, devemos lembrar dos momentos em que um diagnóstico se transformou em sentença de morte — o que, felizmente, os corpos não aceitaram como como inevitável. Eles se mobilizaram e alcançaram conquistas das quais, hoje, todos somos beneficiários. Um dos casos mais emocionantes é o dos Alcoólicos Anônimos: pessoas que, abandonadas pelo mercado e pelo Estado, reúnem-se para encontrar seus próprios remédios num processo de aprendizado onde descobrem a necessidade de renunciar à fantasia do “eu”, para se encontrar na coletividade do grupo, através do diálogo, da compreensão e da energia com a qual mudam seu estilo de vida. Os autistas formam outro grupo incrível. Classificados como doentes, eles construíram a noção de neurodiversidade para reivindicar sua própria configuração neural que os torna diferentes, mas não pacientes. Assim como os funcionalmente diversos — denominação utilizada pelo Fórum de Vida Independente e Diversidade para se referir às pessoas com deficiência — eles concluíram que não é que as pessoas sejam deficientes ou incapazes, mas nossas sociedades é que são incapacitantes. Eles não querem ser curados, basta aceitá-los com suas diferenças sem tratá-los como cidadãos de segunda classe, nem naturalizar sua desigualdade.
Os quatro casos mencionados, junto com uma infinitude de mobilizações ativas em nosso mundo, possuem várias coisas em comum. Uma, a mais óbvia, nos demonstra a potência da inteligência coletiva, ou, em outras palavras, a capacidade que temos para nos auto-organizar e assumir as rédeas de nossas vidas; a segunda, evoca a importância do conhecimento experiencial, esse conhecimento que existe nos corpos e que tem a ver com o que nos acontece e com o que fazemos com os outros. Um conhecimento que é fluído, híbrido e precário, porém também contrastado, porque [a ninguém importa mais que aos envolvidos a qualidade e robustez de suas convicções. E a terceira tem a ver com a capacidade de encontrar as palavras para dizer o que viveram, mas não sabiam nomear. Uma história compartilhada que os representa igualmente e que não é o resultado de um consenso.
Esse conhecimento não cai do céu, nem nasce de ideias mais ou menos brilhantes: é fruto de um esforço coletivo e persistente. Nasceu do saber se construir numa comunidade de confiança, o que provém do aprendizado e do afeto. Nos quatro casos mencionados, eles foram capazes de encontrar palavras com as quais trocar experiências, entender sua singularidade e nomear suas características específicas. Tiveram de moldar um corpo do qual sequer podiam falar no passado. Criaram um corpo comum: um corpo que é experimental, colaborativo, aberto, situado, inalienável. Um corpo entre todos os outros, que é funcional e que eles aprenderam a curar. Ainda teremos muitas rebeliões pela frente contra o corpo normalizado que tende a julgar toda diferença como doença. Paremos por aqui. Nosso propósito, agora, é trazer a atenção para outro corpo, em construção, constituído por dados e não por fatos, mediado por sensores e não instrumentos, modelado para ser gerido com inteligência artificial e não em sessões clínicas, onde engenheiros, designers e especialistas em propriedade intelectual substituem bioquímicos, médicos e enfermeiras.
Recentemente, me impressionou um texto de Santiago Alba Rico que explicava a esquisitice dos tempos atuais, porque assistimos ao nosso primeiro evento mundial, uma coisa que nunca antes tínhamos experimentado. É que, de fato, as ruas se esvaziaram de repente e surgiram perante nós como mero cenário ornamental, como construção fotogênica ou teatro vazio. As pessoas foram confinadas sob uma ameaça em comum e com medos similares. Essa reclusão nos revelou pelo menos duas coisas: uma, a dependência que o sistema tem dos corpos que o fazem funcionar; segundo, a descoberta de que nossa consciência como espécie já era digital.
Vivemos uma situação de internamento físico e externento virtual. Sobrecarregados pela enorme quantidade de tempo que as tarefas domésticas e o teletrabalho consomem, sentimos a importância do cuidado mútuo, incluindo o cuidado remoto. Somos interdependentes de uma maneira tão desconhecida quanto impossível de delegar, e isso explica que uma parte considerável do que vamos viver nos próximos capítulos, aquilo que chamamos eufemisticamente de “novo normal”, terá de ser (re) construído entre nós. O que eles nos oferecem, mediado pelo exigido distanciamento social, soa como uma modernidade quebrada, desgastada e sem graça. É como se tivéssemos que recompor tudo outra vez: relações de trabalho, relações educacionais, relações de saúde e relações familiares. Acreditávamos que tudo funcionava, mas agora nada parece confiável. Tudo se sustenta em apenas quatro fios, de forma frágil, instável e estranha. Teremos que fazer algo para transformar esses restos em artefatos reciclados dos quais possamos nos apaixonar e com os quais possamos construir um mundo acolhedor. O fato de termos que fazê-lo, como sempre, entre nós, não significa que deva ser contra o Estado.
A cidade rebelde, que não aceitava se resignar em casa perante um diagnóstico, também se tornou digital. As infraestruturas foram improvisadas e o comportamento, imitado. Em conjunto, foram experimentos digitais de inovação social. Nos primeiros dias de confinamento, surgiram todos os tipos de iniciativas que, como o site frenalacurva.net, queriam se encarregar da situação. Muitos tentaram ser eficientes, compensando a falta de máscaras faciais ou respiradores, e outros queriam estabelecer uma rede de apoio mútuo para conectar voluntários com pessoas carentes para as quais, por exemplo, comprar alimentos e outros produtos. Desejavam imitar as formas de organização que funcionam entre grupos de cidadãos independentes. Havia vontade de ouvir, autonomia e experimentação. Tudo aconteceu online, mas replicando práticas urbanas curativas e bem-sucedidas.
O direito à cidade migrava para o mundo virtual, dando voz e presença aos que não a possuíam. A tentativa era a de tornar mais igualitária essa nova cidade digital, que se expande sem limites pela nuvem, com base em infraestruturas, sensores, dados e algoritmos. De repente, descobrimos que a smart city, somente mencionada com a finalidade de praticar a especulação e a vigilância, já era uma possibilidade urgente que precisava ser desenvolvida sem mais atrasos. Não é fácil se organizar para ganhar capacidade de interlocução com os que decidem, e é normal que o façamos por meio da internet, já que o custo é minimizado — em termos de tempo e dinheiro.
Custa pouco, mas sai caro. A interação nas redes tem seu preço: colocar nossas vidas à disposição dos grandes impérios digitais, esses senhores das redes que constroem cidades sob a medida de seus interesses e ao alcance de seus sensores e algoritmos. Os que nos preocupamos com essa regressão rumo à refeudalização do mundo encontramos esperança na noção de soberania tecnológica. A cidadania perde o controle de sua cidade enquanto não adquirir certa capacidade de intervir no design dos sensores e dos algoritmos, e isso só é possível com infraestruturas de código aberto, devidamente documentadas. Somente dessa maneira poderíamos redesenhá-las para garantirem os direitos que nos constituem cidadãos — entre os quais devemos incluir o direito de decidir, o direito à privacidade ou o direito à intimidade.
Nossos corpos estão sendo monitorados intensivamente — e, no futuro, serão mais ainda. Pode acontecer de termos que nos abrir ainda mais, seguindo ordens do Estado, como já está acontecendo na China e na Coreia, por causa da pandemia. A internet dos corpos (IoB), será uma parte crucial do já citado arsenal de recursos à disposição da internet das coisas. Trancados, a fronteira entre o público e o privado se torna muito mais difusa. O ambiente urbano e O corporal tendem a se misturar. Ser cidadão e estar online são quase sinônimos. Voltaremos às ruas, mas há poucos que confiam que tudo será como antes. O que acontece conosco é um ensaio geral do que está por vir. Portanto, é urgente entender melhor esse direito à cidade digital.
Na última década, os movimentos de cidadãos aprenderam a abrir mão dos grandes discursos de mudança para transformar a criação de hortas, o pedalar pelas ruas, a distribuição local ou as pequenas oficinas de produção (costura, consertos, impressões em 3D), em ferramentas para a construção de novas formas de sociabilidade, baseadas em práticas colaborativas, abertas e localizadas. São as mesmas práticas humildes e eficientes que mobilizaram os grupos associados a algum estigma que afetava seus corpos e que, de modo geral, nasceram como uma revolta contra um diagnóstico. Em todos os casos, o direito à cidade tornou-se o direito de diversos grupos de imaginar e materializar estilos de vida diferentes. Construir uma cidade era (quase) o mesmo que construir um corpo. Para construir cidades, foram usados como modelo os procedimentos e as formas bem-sucedidas daqueles que foram capazes de se curar através da construção de um corpo comum.
A soberania sobre o corpo, o direito de ter um corpo próprio, que sempre foi um dos pontos da pauta feminista, também terá que se adaptar. Um século de avanços para conquistar níveis relevantes de soberania corporal agora nos força a levar muito a sério qualquer ação destinada a fortalecer (ou enfraquecer) as políticas de soberania tecnológica. Em breve, os algoritmos saberão antes do que nós o que vamos fazer. Não é que eles estejam vigiando nosso futuro, mas estão condicionando nosso presente para que, quando chegar a hora, nos comportemos como eles projetaram e imaginaram; do mesmo jeito que, em outros tempos, sem necessidade de nos autoimpor ordens, fazíamos o que o padre, o pai ou o chefe esperavam de nós.
O coronavírus nos ajuda a entender melhor para onde vamos. A pandemia funciona como um espelho, onde podemos olhar para nós mesmos e encontrar a imagem que insistíamos em nos negar. Assim como o Estado declarou emergência e assumiu poderes extraordinários que lhe permitiram restringir a mobilidade ou nacionalizar hospitais, fábricas e hotéis, ele também passou a tratar os dados dos pacientes como ativos expropriáveis. Os resultados dos testes têm um valor epidemiológico decisivo para a construção de políticas públicas.
Por isso entendemos essa atitude de alguns governos. Todos nós, com nossos aplausos, participação solidária e dados clínicos, temos orgulho em contribuir para o bom gerenciamento do problema. Para enfrentar os desafios do presente, tivemos que elaborar uma política de dados que nos tornasse doadores sem saber ao certo o que está acontecendo nem quais consequências essa transferência de parte de nossa identidade pode vir a ter. Não sabemos onde estão armazenados, quem terá acesso, com que finalidade serão utilizados. Não sabemos nada, exceto que um corpo informacional foi modelado ad hoc, com base em nossos dados e que constitui um modelo mais ou menos simplificado daquilo que somos.
É preciso insistir, mais uma vez: esses dados não deveriam ser tratados como coisas alienáveis ou simples excrescências corporais, mas como uma extensão de nosso próprio corpo. Embora sejam anonimizados, são tão importantes para nós quanto o mapa da cidade em que habitamos. Um algoritmo bem projetado pode decidir a rota pela qual enviar tráfego, os locais para destacar incidentes ou os mais atraentes, transformando a cidade em um espaço aberto à venda, à especulação imobiliária ou à manipulação política. Tudo indica que precisamos trabalhar mais e melhor um tipo de nova gramática da soberania. O coronavírus nos mostrou a importância dessas cartografias, bem como nossa dependência do big data e os riscos associados ao uso (ou uso indevido) dessas informações.
Declarar esses dados como privados não parece ser uma boa alternativa, porque isso nos prefigura como proprietários e, na prática, criará um mercado tão repugnante quanto o de órgãos. Mais do que nossa propriedade, que só desloca o problema para a questão de como e a quem transferir os dados, deveríamos vê-los como uma nova responsabilidade, algo que nos corresponde para cuidar dos monopólios que a propriedade intelectual está gerando. O local onde os depositamos não é necessariamente o mais decisivo, pois eles podem ser replicados e disponibilizados desde e para diferentes usos. O importante não é onde, mas como os arquivamos, validamos ou transmitimos. Imaginá-los integrando um data commons, um Comum digital”, é o equivalente a pensar neles como um direito e não como um serviço.
Tais quais os órgãos e os tecidos, os dados também são propriedade moral até o momento em que são extraídos, quando deveriam se transformar num bem comum. Isso quer dizer que eles são acessíveis sob as condições estipuladas pelas comunidades nas quais se originam, porque essa matéria-prima só tem valor significativo quando engloba toda a comunidade em questão e quando ninguém pode se auto-excluir. Com os dados, acontece um fenômeno semelhante ao das vacinas: só funcionam bem quando todos fazem uso delas, considerando que a saída de um grupo com essa responsabilidade altruísta não prejudica os “fugitivos”, mas deprime a imunidade da comunidade. Sermos capazes de criar e fornecer dados, como conhecer uma notícia, dar à luz uma criança ou usar um idioma, não nos torna seus donos, mas seus gerentes. Temos que cuidar deles para impedir que se tornem mercadorias ameaçadas ou perigosas.
O direito à cidade foi imaginado como a ferramenta capaz de articular a presença de vozes dissidentes e minorias excluídas, na gestão do que é público. Organizar essa conversa nunca foi fácil. A pergunta que precisamos nos fazer agora tem a ver com a possibilidade de um direito semelhante que questione a cidade digital, pois é com big data que serão tomadas decisões que afetarão a saúde, mobilidade, tributação, segurança ou qualquer outro aspecto da nossa existência. Às vezes, achamos difícil imaginar a relação entre o que acontece em um laboratório e o que acontece na vida real, mas se eu fosse um pássaro, ficaria muito preocupado com o que os ornitólogos dizem, porque chegará o dia em que as políticas para pássaros serão elaboradas com base nesse conhecimento. Pobres pássaros: quando descobrirem o que está lhes acontecendo, será tarde demais.
Publicado no Outras Palavras, em 22/07/2020.

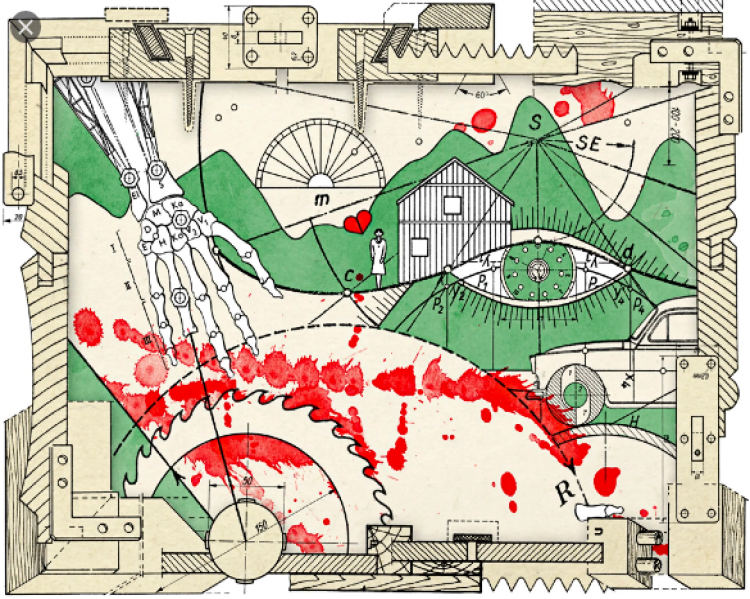

 O conteúdo deste portal pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores.
O conteúdo deste portal pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores.